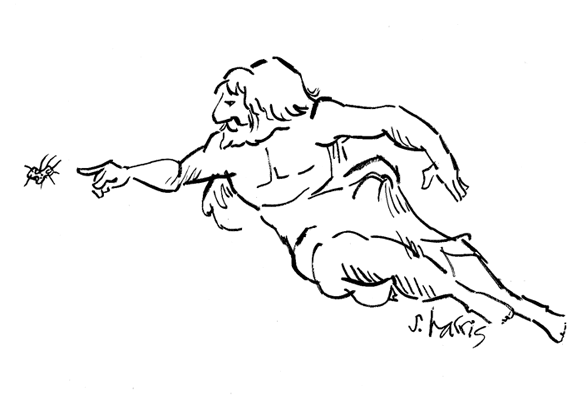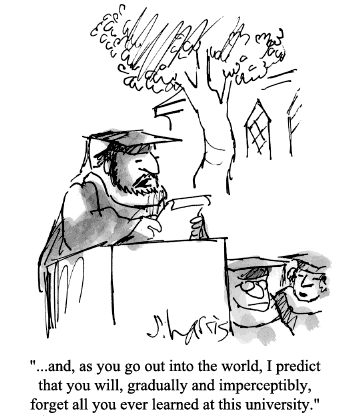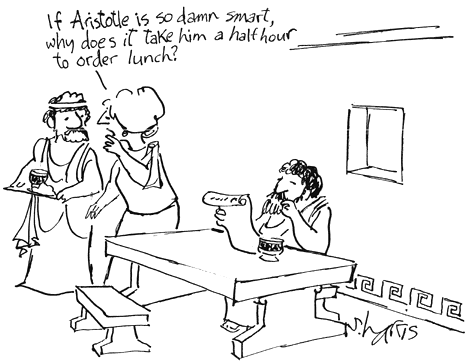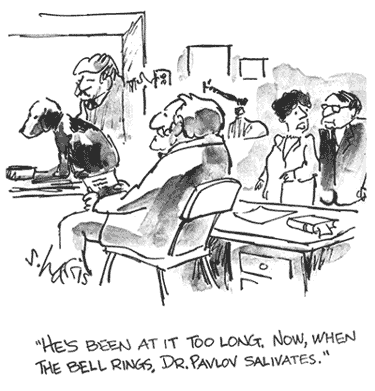"(...) da qualidade de minhas respostas podereis compreender que não é nelas, mas nas vossas próprias objeções, que tem raiz aquele fruto que, não sem meu desgosto, poderia talvez amargar-vos em certa parte o gosto: que bem devíeis, Sr. Ingoli (e seja-me permitido, por vossa ingenuidade filosófica e por minha antiga afeição por vós, dizer muito livremente), pondo-vos, como se diz, as mãos no peito, e sabendo consistentemente que Nicolau Copérnico tinha bastante mais anos nessas dificílimas especulações que vós dias consumados, devíeis, digo, aconselhar-vos melhor e não deixar-vos facilmente persuadir de poder aterrar um tal homem e, principalmente, com aquele tipo de armas com as quais o afrontais, que finalmente fazem parte das objeções mais comuns e usuais que se fazem nesta matéria, e se, ainda assim, existir nisso alguma coisa de vosso, esta é de menos eficácia que as outras. Portanto, esperáveis que Nicolau Copérnico não tenha penetrado os mistérios do facílimo Sacrobosco? Que ele não tenha entendido a paralaxe? Que ele não tenha lido e entendido Ptolomeu e Aristóteles? Eu não me admiro que tenhais confiado de poder vencê-lo, pois que tão pouco o estimáveis. Mas se vós o tivésseis lido com toda aquela atenção que vos é necessária para bem entendê-lo, quando não fosse por outra coisa, pelo menos a dificuldade da matéria teria de algum modo atordoado em vós aqueles espíritos contraditórios que, antes de tomar tamanha resolução, vos teríeis refreado e mesmo totalmente abstido."
sexta-feira, 28 de maio de 2010
domingo, 18 de abril de 2010
A Ciência Ri
Estive lendo A Ciência Ri, coletânea de cartoons de Sidney Harris. Faz graça da ciência, da filosofia, da psicologia, da evolução. No site do autor, você vê quase todos.
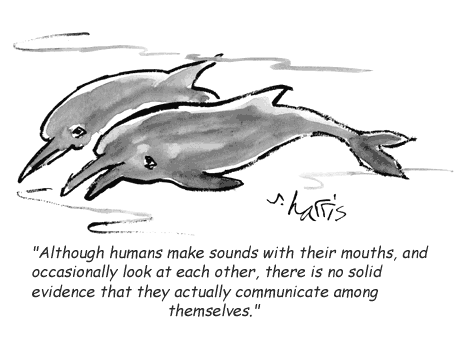
terça-feira, 30 de março de 2010
O Desprezo ao Amador
1. Eu escrevi algumas coisas no post anterior (“O que mantém a Filosofia viva”) que me incomodaram um pouco na releitura. Eu disse: “do alto do meu conhecimento de O Mundo de Sofia”, meio que desprezando. Perguntei se a resposta de alguém era a melhor possível ou “a melhor que ela podia dar pra mim?”, indicando que, adolescente que eu era, houvesse coisas que eu supostamente não poderia entender à época. Também sugeri que a Filosofia de verdade (para mim) não chegava nem perto do “bate-papo engajado cheio de palavras difíceis”, e com isso eu tinha em mente um tipo bem particular de pessoa, que não estudou, mas sabe uma série de termos e um pouco de história (similar ao primeiro trecho que citei, só que aplica a ideia de forma geral). No cerne, eu realizo uma divisão rígida entre filosofia acadêmica, de estudo e pesquisa, e filosofia amadora. Como se fosse impossível para esses ‘amadores’ alcançarem qualquer coisa do primeiro tipo. Mas isso é verdade?
2. Antes que eu analise se é ou não, quero saber por que é que essa divisão surgiu no texto, já que eu a não decidi antes de escrever e ela foi incluída naturalmente, no fluxo da escrita. Em certo nível, ela funciona para valorizar o texto e autor, na medida em que supervaloriza o ensino acadêmico. Porque sou eu que estou fazendo a graduação e sou eu que agora não faço mais parte dos filósofos amadores. É como se eu dissesse: da mesma forma como esse tipo de formação tem valor, tem o meu texto. É uma espécie de falácia, um Argumentum Ad Verecundiam (Apelo à Autoridade) difuso. Daí para um: seja como eu. E no parágrafo 4, eu conto algo como uma história de superação. Por outro lado, já que a ideia se escreveu, não a construi premeditadamente, creio que ela já estava há tempos dentro de mim. É evidente, já que crer que sou demasiado amador é uma das coisas que me levaram a fazer o curso. Mas já agora duvido dessa crença e ressignifico a pergunta do outro parágrafo: o quanto amador eu de fato eu era? O quanto isso verdadeiramente me limitava?
3. Em um de seus textos, Bernard Shaw sugere que troquemos o ou isso ou aquilo (ou bom ou mal; ou de direita ou de esquerda; etc) por uma visão nivelada: o quanto disso, o quanto daquilo. Pensando sobre o que diferencia o acadêmico do amador, por assim dizer, cheguei a conclusão de que se trata de variação nos níveis dos seguintes aspectos: rigor, disciplina, condições de formação e fontes de informação. Dependendo do nível alto ou baixo de cada um desses termos, o indivíduo vai estar mais ou menos perto do que seja amador e mais ou menos perto do que seja acadêmico. Aqui creio que é melhor refazer uma definição: não há motivo para endeusar a priori o acadêmico. Ter feito a faculdade, entrado e depois saído de lá são e salvo não implica em grande rigor e disciplina, formação e erudição amplas. Já que estamos pensando por níveis, não por categorias estanques, vamos considerar, pelo menos agora, todos como filósofos, mais ou menos próximos do filósofo ideal, ou completo.
4. Creio que essa ideia existia no outro post, de certa forma. Eu digo: “se não há finalidade assentada, todo currículo vale (...) da mediocridade à excelência, as opções são múltiplas e não há critério para distinguir entre o que seja bom e o que seja ruim, porque não há ideal”. Passo então a falar das condições que permitem que, para o senso comum, filósofo amador e acadêmico (usando os termos que deixamos pra trás) fiquem em pé de igualdade. Por fim, no parágrafo 6, eu defini o que seria o filósofo de excelência. Também já tinha colocado as coisas em escala: “esse conjunto de acepções leva ao que se chama excelência”. Ou seja, é um caminho, do mal feito ao aperfeiçoado. Mas incorri nesses prejuízos que citei, que dão a aparência de imobilidade. Podemos dar um passo adiante do parágrafo 2 do post atual: não me limitava a condição em si de amador, mas como eu a vivia.
5. Rigor é a exigência que se faz para si mesmo de realizar coisas bem acabadas. Disciplina é a adoção de um método e a força para seguir nele. São duas palavras meio empoeiradas e meio aborrecidas, mas você pode escolher as que façam sentido pra você. Sem rigor, todos os textos e análises que eu fizer poderão ter problemas sem que eu perceba; sem disciplina, estarei escrevendo o mesmo, sem evoluir, ou evoluindo por espasmos. Mais importante que os dois, agora, são fontes de informação e condições de formação. As ideias que passam do autor original, são traduzidas pelo tradutor, filtradas pelas várias inteligências, mastigadas pelos divulgadores, simplificadas pelos jornalistas — essas ideias se desfiguram cada vez mais do original. Descartes disse, no Discurso do Método:
"Não me espantam de modo algum as extravagâncias que se atribuem a todos esses antigos filósofos, nem julgo, por isso, que seus pensamentos tenham sido muito desarrozoados, visto serem os melhores espíritos de seu tempo, mas apenas julgo que nos foram mal relatados. Porque se vê também que quase nunca aconteceu de algum de seus sectários os haja superado: e estou seguro de que os mais apaixonados dos que seguem Aristóteles crer-se-iam felizes se tivessem tanto conhecimento da natureza quanto ele teve, embora sob a condição de nunca o terem maior são como a hera, que não tende a subir mais alto que as árvores que a sustentam, e que muitas vezes torna mesmo a descer, depois de ter chegado ao topo."
6. Considero que, na universidade, as fontes de informação são certamente mais gabaritadas do que as mais comuns, e haverá estímulo para repetir a leitura e entrar em contato com os originais. Essa é possivelmente o item que mais distinguirá um bom filósofo do mediano. O que eu chamo de condições de formação são as experiências de vida, profissionais e etc que nos fazem refletir de alguma forma sobre as coisas. Nosso background. Isso vai levar outro texto para analisar, mas vou comentar um pouco. Ouvi dizer, por exemplo, que a política de Aristóteles era ineficaz, porque ele conheceu poucos exemplos e não viveu tudo o que veio. E é uma anedota muito conhecida a que segue: uma edição do New York Times traz mais informação do que um homem na Idade Média teria durante toda a vida. São historinhas. Mas demonstram qual é o potencial desse background imenso que temos, criado pela época frenética em que vivemos. Então, por que não chegamos aos pés dos antigos?
sexta-feira, 19 de março de 2010
O que mantém a Filosofia viva
1. Na primeira aula que tive no curso de graduação, entre outras considerações, citaram várias especificidades do ensino de Filosofia. A primeira é que o curso é estruturado de forma profissionalizante, assim como os demais cursos da universidade. A segunda é que, ao contrário desses outros cursos, não prepara o aluno para uma atividade específica, não o equipa para resolver determinado tipo de situação ou problema. À primeira vista, pensei que o professor iria explorar o que, para mim, se mostrava como uma evidente contradição. Quando um aluno de medicina cumpre a sua carga horária, supõe-se que ele objetivamente estará pronto para operar um apêndice ou corrigir um fígado; mas ao fim do currículo de Filosofia, qual objetivamente minha função? Se não há finalidade assentada, todo currículo vale como qualquer outro; da mediocridade à excelência, as opções são múltiplas e não há critério simples para distinguir entre o que seja bom e o que seja ruim, porque não há ideal.
2. Isso é certamente válido para dois casos. A graduação, somada à licenciatura, dá um alvo claro ao recém-formado: ser professor. Qual o problema específico que um professor dessa matéria resolve? No Ensino Médio, tive três experiências. Ou o docente preenche a lousa com história e nos enche de frases que supõe-se conterem conceitos; ou ele tenta estimular uma série de discussões sem método sobre assuntos variados; ou uma união dos dois, que é o debate solto com interferência do professor citando a ideia de algum filósofo. O medíocre é possível em todos esses casos, e a sociedade nem teria como saber que ele o é, já que não há o modelo do que um filósofo deveria ser. Vou voltar a isso mais tarde. O outro caso que citei é o uso cotidiano do termo “filosofia”. Que significa qualquer ideologia, processo que deva ser seguido para qualquer coisa, opinião que se pense deslocada da realidade, de modo que todos sejam filósofos de alguma maneira ou de que a filosofia seja inútil de todo.
3. A terceira consideração que foi feita é: muitos dos assuntos tratados na Filosofia estão de forma latente envolvidos com nossa própria personalidade, interesses individuais/pessoais, temas que às vezes nos afetam diretamente e, por isso, o pensar sobre esses assuntos corre o risco de ser violentado pelos nossos preconceitos, prevenções e prejuízos. Nos interessamos pelos filósofos com quem concordamos ou cujas ideias servem a sustentar nossos próprios pensamentos prévios. Borges me parece descrever bem isso em "A Biblioteca de Babel":
“Como todos os homens da Biblioteca, viajei na minha juventude; peregrinei em busca de um livro, talvez o catálogo dos catálogos; agora que meus olhos quase não podem decifrar o que escrevo, preparo-me para morrer, a poucas léguas do hexágono em que nasci. Morto, mãos piedosas não faltarão que me tirem pela varanda afora; minha sepultura será o ar insondável: meu corpo se fundirá dilatadamente e se corromperá e dissolverá no vento originado pela queda que é infinita. Afirmo que a Biblioteca é interminável.” [leia completo]
4. No Ensino Médio, isso me descrevia de forma exata. Perguntei um dia à professora, que filosofia a seguir, de todas essas, os montes a derrapar nas prateleiras, qual o filósofo acima do vulgo, qual as ideias que compilam o resto, indicam a senda de luz. Não perguntei assim não, mas era assim. Do alto do meu conhecimento de O Mundo de Sofia, eu queria saber: so what? E ela me respondeu a resposta desagradável: não há. Pegamos os fragmentos de cada um para construir nosso ser. Era a melhor resposta que ela podia dar ou essa era a melhor que ela podia dar para mim? É até injusto que eu descreva as aulas dela como descrevi. No começo, havia ímpeto, havia vontade, mas ela perdeu o ânimo, afogada no desinteresse que era o padrão da sala, talvez pelas ideias que se tem da Filosofia e que citei. De todo modo, ela me cuspiu que eu não seguia em direção a um messias.
5. Se a Filosofia não se presta a embasar minha ideologia prévia; não se trata de um decorar esquemático da data em que nasceu Descartes e da única frase que disse: penso, logo existo; nem mesmo pode se achar com frequência na conversa delirante ou no bate-papo engajado cheio de palavras difíceis usadas sempre somente para provar o que o interlocutor quer, que inferno, então para que serve esse troço? Se é para ser professor, certo é que não seja para alimentar as atitudes enumeradas antes. Você pode estar pensando: lá em cima ele disse que não há função, e agora pergunta, assim, leviano? Acredito que haja uma função, sim. Mas ela não é um fator limitante. Não é uma estrada e o ponto de chegada. É o campo aberto e a incerteza. A floresta tenebrosa conosco no centro.
6. Essa última imagem é um retrabalho do que li em Descartes, depois faço a citação e você decide se eu usei o francês de forma errada. Acredito — tanto pelo que vim lendo durante toda a minha formação, pelos livros da infância e adolescência, pelo curso de Jornalismo e também pelas características que eu quero reconhecer na graduação atual — que a “função” da Filosofia é preparar para atuar em meio àqueles problemas “resolvidos” pela técnica e avaliar o que está nas entrelinhas. É desmontar os discursos, reinterpretar resultados, seguir a atualidade ao mesmo tempo em que se acompanha o percurso das ideias desde sempre, e assim desconstruindo crenças na originalidade de ideologias ou apontando falhas velhas. É, enfim, estabelecer a antesala da certeza, o espaço a percorrer antes de se lançar à fé. E que talvez nunca seja vencido de todo. A Filosofia não pode ter um fim, porque ela é a origem.
7. Não creio que possa ser só isso, mas acredito fortemente que essa seja a sua alma. Nós, antes, citamos vários exemplos do que era medíocre; agora, todo esse outro conjunto de acepções creio que leva ao que se chama excelência, seja qual for a linha de pesquisa que se assuma no futuro. Admiti-lo é assumir o propósito original. Compreender o que mantém a Filosofia viva.
domingo, 14 de março de 2010
Responsabilidade de Pensante
Entre os 16 e 20 anos, mantive o eutenhoumblog. Eis um texto da época.
(adicionei links e de resto não fiz qualquer alteração. O texto é de 10/12/2003.)
---
Responsabilidade de Pensante
Mudar o mundo; Um animal é uma criança que só come, dorme e quer brincar. Um ser pensante é a criança que se considera o centro do mundo. Pensar, auto-denominar-se filósofo ou coisa que o valha é ter absoluta certeza de que suas idéias são melhores do que outras, é ter certeza de que sua concepção de vida é tão melhor que qualquer outra.
É crer que as pessoas devem segui-lo. Que são um rebanho de condenados.
Pensar é acreditar veementemente que o mundo todo está errado.
Pois pense: se o mundo está certo, para que me preocupar? Nadar a favor da corrente seria a alternativa correta; e para meio bilhão de pessoas, a vida está certa, o mundo está certo - é assim que as coisas devem ser, então, vamos seguir a corrente, e chegar primeiro, se der.
Controle populacional é fazer acreditar que as coisas estão certas, ou indo para algo certo; é criar um modus operandi da vida.
E é claro que eu acho que isso está errado; 'Criatura pensante', não foi o que eu disse? 'Bobeira é não viver a realidade'. A realidade, não fui eu que criei, não posso reclamar. Mas acho que está errado não reclamar, então, reclamo.
Pensar, filosofar, é fazer birra.
A única responsabilidade do pensante é fazer birra, o máximo que puder. Depois que você morre, chamam isso de revolução, e, ou te amam, ou te adoram.
Viver é ter alguém pra amar e alguém pra odiar.
Não se pensa quando ama, não se pensa quando odeia.
Pensar é não viver.
Coisas pensantes abdicam da vida e entram em algo diferente.
É responsabilidade de pensante voltar desse negócio estranho para a vida e dizer que foi legal.
Afinal, todo mundo conta história, 'no ato falho eu sou um fruto da criação'.
Assinar:
Postagens (Atom)